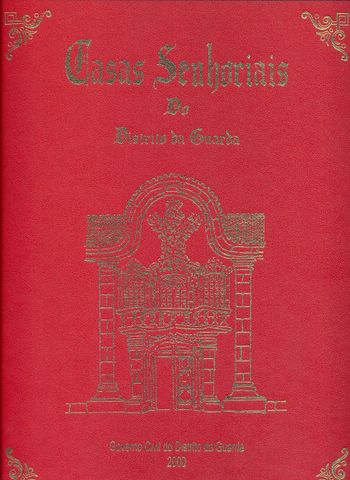Bolo podre de Castro Daire - um pão doce exclusivo
por Oliveira Figueiredo
jornalista do "Diário de Notícias"
in "Actas do IV Encontro de Cultura Tradicional da Beira", Viseu, 1997, Edição AVIS
Falemos do pão. Esse alimento quase completo que se come só, que se come com tudo, com o qual tudo se come. Sem necessidade de importar ou adoptar termos estrangeiros para pegarmos em duas fatias dele, entremeá-las de carne (presunto, salpicão, vaca ou galinha), uma sardinha, queijo ou marmelada e improvisarmos uma refeição suculenta e saborosa, se é que não fazemos como na Idade Média e bem avançado o Renascimento, utilizá-lo como suporte das viandas à maneira de prato individual. Ou, então, pegarmos num pedaço de broa, uma malga de azeitonas e um copo de vinho e fazermos a nossa merenda. Ou, ainda, migá-lo e regá-lo com um fio generoso de bom azeite das nossas oliveiras, se não nos quisermos dar ao trabalho de pô-lo de molho, juntar-lhe uma pitada de sal, um dente de alho e fazer uma açorda (com couves e um ovo) das Beiras (para já não falar da alentejana de confecção diferente).
Do grão cru ao pão fermentado passaram milhares de anos
Falemos do pão, alimento primordial da Humanidade, amassado com o suor do rosto como castigo do pecado de Adão e Eva (Gén. 3, 19); base da civilização que é fruto do trabalho do homem (e da mulher) segundo a vontade do Criador: "tirarás da terra o sustento com muito trabalho, todos os dias da tua vida" (Gén. 3, 17).
De facto, a civilização começa (já lá vão bem uns 10 mil anos) quando a humanidade passa do estádio da caça e recolecção de bagas e sementes ao cultivo da terra para dela extrair as plantas e os frutos considerados mais apropriados para a alimentação da tribo.
Assim, depois dos frutos silvestres e da carne assada nas brasas ou mesmo dos cereais espontâneos, o milho miúdo em primeiro lugar, depois a cevada, a aveia, o trigo e o centeio cujos grãos eram comidos crus, cozidos ou assados, surge o pão, primeiro em forma de bolacha, uma massa espessa cozida ao borralho ou sobre o fogo, dura mas assim mesmo mastigável, feita a partir de cereais (nomeadamente cevada ou trigo) farinados grosseiramente entre duas pedras. Depois, por acaso, estas bolachas metamorfosearam-se em pão propriamente dito. O pão, ao contrário da bolacha, resulta de uma massa fermentada, ou seja, deixada algum tempo em contacto com o ar e a água cujos microorganismos a transformam. A fermentação natural desprende gás carbónico que faz crescer a massa a qual, depois de cozida dá um pão bastante mais volumoso, fofo e leve, bem mais saboroso que a bolacha. (1)
Relativamente à ideia de que os cereais durante muito tempo teriam sido consumidos crus, devemos ter presente os estudos dos antropólogos (em grande parte corroborados por descobertas arqueológicas) segundo os quais só muito raramente os homens primitivos terão recorrido aos cereais crus para comerem, pois não podiam deixar de sentir grandes dificuldades para os digerirem em tal estado enquanto, por outro lado, verificaram que os rebentos dos grãos ou, melhor, os grãos em germinação, constituiam um rico e saboroso alimento. É certo que não sabiam porquê (nem isso os terá preocupado, tanto mais que atribuíam aos deuses a dádiva dos alimentos e do modo de os confeccionar quando era caso disso, pois não lhes passava ainda pela cabeça como, graças ao processo de germinação durante o qual o amido contido no grão - indigesto no cereal cru - se converte no digestível açúcar de malte e, muito menos, que parte dos hidratos de carbono se convertem em apreciáveis quantidades de vitaminas B e C e, em menor quantidade, de A, E e K e as proteínas se dividem nos seus constituintes aminoácidos. O problema estava em armazenar os grãos germinados colhidos húmidos que era preciso espalhar e pôr a secar para impedir a formação de bolores. Daí que, segundo Reay Tannahill (2) o grão maltado raramente era considerado como matéria prima alternativa da alimentação num contexto amplo de fabrico de pão ou de cerveja. Pelo menos até os homens poderem dispor de recipientes adequados, o que só veio a acontecer com a invenção da olaria.
Cerveja ou pão: qual deles o primeiro?
A propósito e entre parêntesis, refiramos que recentemente um antropologista emitiu a opinião de que o homem do Neolítico se terá interessado pelo grão, primeiro por constituir a matéria prima para fazer cerveja e só depois como farinha para o fabrico do pão. Esta mesma teoria é referida por Christopher Finch (3) ao escrever que alguns cientistas defendem a tese de que os primeiros homens, ao trocarem a vida nómada pela de agricultores, fizeram-no com a intenção específica de cultivar cereais para produzir cerveja. Outros mais ortodoxos, porém, admitem como mais provável que os proto-agricultores cultivaram o grão para fazerem pão, embora, como é do conhecimento geral, sempre tenha existido uma relação muito estreita entre o fabrico do pão e o da cerveja: ambos são feitos de grão, água e, mais tarde, leveduras e cada um deles oferece aproximadamente o mesmo tipo de valor nutricional. De facto, devemos assumir que, para o homem primitivo, a cerveja foi sobretudo importante como alimento (GL) o seu papel como bebida intoxicante (inebriante) era secundário.
Já agora, mantendo o parêntesis aberto, diremos a este propósito alguma coisa que nos diz respeito, particularmente a nós, beirões, e ainda porque um dos temas desta jornada é a gastronomia tradicional e o tema específico desta palestra é o bolo podre de Castro Daire, passando, naturalmente, pelo pão, uma vez que este bolo é feito da mesma forma que o pão. Ora, como escreve Estrabão (4) acerca dos Lusitanos, estes "são pobres. Não bebem senão água e dormem no chão... As populações das serras vivem dois terços do ano de bolotas de carvalho. Secam-nas, abrem-nas e reduzem-nas a farinha para fazer um pão que se conserva durante longo tempo. Geralmente bebem cerveja, raramente vinho e o que produzem depressa o consomem em banquetes familiares". Daqui poderá inferir-se que os Lusitanos a primeira coisa que fizeram com a cevada (ou outro grão?) foi cerveja. Entretanto o geógrafo descreve como decorriam os festins dos Lusitanos, com muita alegria (decerto em parte provocada pela ingestão do vinho), cantos e dança, o que me leva a imaginar que assim teriam surgido as primeiras confrarias báquicas no território que hoje é Portugal. Mas o testemunho de Estrabão serve, sobretudo, para esclarecer um ponto obscuro na história do pão quando não havia ainda nem pão nem história porque não existia a agricultura, é que, embora a mitologia clássica e os escritos dos poetas ao longo dos tempos tenham atribuído à bolota o papel de um dos principais alimentos com que se sustentaram os povos durante a legendária Idade de Ouro, quando os deuses e os heróis passeavam de braço dado na terra, abundavam os comestíveis e não havia necessidade de trabalhar duramente na agricultura, o certo é que não existem provas evidentes de que assim tenha sido. Segundo os autores de Food in Antiquity (5), quer nos tempos clássicos quer mais tarde até ao século actual, registam-se numerosos documentos sobre o uso da bolota como alimento dos povos agrários ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo e áreas adjacentes da Europa, sudoeste da Ásia e norte de África (até porque a bolota, nutricialmente é semelhante aos cereais, sendo em grande medida fonte de hidratos de carbono e, por outro lado, como as nozes, por exemplo, ricas em gorduras), mas, sobretudo como alimentação dos animais e excepcionalmente (em tempos de grande fome ou em lugares onde a agricultura era difícil) como alimento dos homens.
Entre nós, nomeadamente no Alentejo, onde os porcos são cevados com bolota (e por isso a sua carne é tão gostosa), também os humanos consomem (ou pelo menos consomiam até há pelo menos três décadas), com deleite, bolotas doces assadas. Quando (já lá vão bastantes anos) cheguei pela primeira vez ao Alentejo, reparei, com grande espanto que os Alentejanos se deliciavam com bolotas assadas ou mesmo cruas. Não as comiam para matar a fome nem para saciar o apetite, o seu alimento de base era (e é) o pão, esse pão branco tão gostoso, o mais parecido, pela sua forma, com o bolo podre: comiam-nas como petisco, entre as refeições ou como aperitivo. Embora insistissem comigo para as comer, eu, oriundo da civilização ou cultura da castanha e, ainda por cima, subconscientemente condicionado pela cultura judaico-cristã, recusava-me sequer a provar. Devia pesar-me lá no fundo da memória aquela parábola acerca do filho pródigo (Luc. 15, 15-16) a disputar com os porcos a posse de umas quantas bolotas para matar a fome. Para ser inteiramente sincero, devo dizer que acabei por provar aquela "especialidade" mas fiquei ainda mais saudoso das minhas deliciosas castanhas.
É isto o que D. A. Booth pretende dizer quando escreve que "A nossa experiência social é a origem de muitos dos pormenores do processo mental que ocorre na escolha dos alimentos e bebidas e de quando, onde e como se devem consumir". (6) De facto, na altura de escolher, é natural optar pelo que é tradicional, usual e corrente entre o grupo (aldeia, província, região, etc.) em que fomos criados desde a infância.
Em Trás-os-Montes e na nossa Beira Alta, o que predomina é a castanha. Lembro, a propósito, a tradição que se manteve em Castro Daire até não há muitos anos (hoje de quando em quando reavivada a nível familiar) de se comer caldo de castanhas piladas, quase como uma obrigação religiosa, no Domingo de Ramos. Nesse dia não se comia verdura, nem sequer se ia à horta por ela, por isso o caldo era feito do que havia em casa ou seja de castanhas piladas. Há quem se lembre de que a ementa se repetia na Sexta-Feira Santa. Ora, isto significa que, antigamente, a castanha fazia parte da dieta corrente na região. E não resisto a registar aqui a receita de um dos mais saborosos petiscos de que guardo memória. Na memória apenas, porque hoje, como diz a minha gente, já nem castanhas piladas há! Um exagero. A verdade é que ainda há, quer na vila quer nas aldeias, quem lá de longe a longe faça o seu caldo de castanhas.
A maneira mais simples de o fazer consistia em cozer as castanhas com um bocado de cebola picada, azeite e sal a gosto. Quando a água ficava grossa, estava pronta. Fumegante, cheirosa, de fazer crescer água na boca. Há, porém, quem acrescente às castanhas um pouco de feijão encarnado, para ao mesmo tempo tornar o caldo menos doce e lhe dar cor. E ainda quem lhe acrescente arroz e massa.
Fecho aqui este parêntesis para continuar a acompanhar a história do pão, história que, tal como a do vinho, se confunde com a história da Humanidade. (7)
E não apenas se confunde como, tomando a parte pelo todo, o pão por comida, a influencia decisivamente, para o bem e para o mal. Carson I. A. Ritchie, autor de uma obra sobre este aspecto da alimentação, diz que "foram conceitos erróneos sobre a alimentação e não os correctos que demonstraram ter uma influência maior". (8) Por outro lado, sabe-se que os primeiros instrumentos inventados e utilizados pelo homem foram aqueles que, directa ou indirectamente estavam ligados à obtenção de alimentos (pontas de silex para caçar os animais, por exemplo) ou para os matar de outra forma e separar as carnes. E com o advento da agricultura, as enxadas, foices e toda a parafrenália de alfaias agrícolas que se foram desenvolvendo, bem assim como as mós, os fornos e os potes para cozinhar ou guardar as reservas de cereais, azeite, etc. (9) A civilização nasce e desenvolve-se, pois, à medida da satisfação das necessidades básicas do homem (a alimentação) e, logo a seguir, do seu paladar mais apurado. Mas isso já é propriamente cultura e tem a ver com gastronomia.
Entretanto, das bolachas do Neolítico até aos pães da proposição depositados pelos Hebreus no Templo de Jerusalém, como primícias: "Trareis das vossas casas dois pães feitos de dois décimos de flor de farinha, cozidos com fermento..." - Lev. 23, 17 e, ainda antes do Pentecostes, logo a seguir às ceifas, outros "dois décimos de farinha flor amassada com azeite [GL] um prato consumido pelo Senhor, um perfume agradável [GL] e, como libação, vinho..," Lev 23 (10), o caminho percorrido é longo e os séculos sem conta, De alimento terrestre o pão tornou-se, primeiro no Egipto, na Palestina depois, o símbolo da vida eterna, E, na última Ceia, o corpo do próprio Filho de Deus. Ignora-se qual o povo que terá descoberto o modo de preparar o fermento, mas sabe-se que esta técnica era já usada pelos Egípcios na época pré-dinástica 13500-3300 a.c.). Os restos fossilizados do mais antigo pão levedado conhecido (3560 a 3530 conforme apurado pelos processos de datação) foram, no entanto, descobertos na Europa, concretamente na Suíça numa aldeia lacustre. Na França foram descobertos fragmentos de bolachas da Idade do Ferro, do Bronze e até do Neolítico. (11)
Durante os quatro séculos que viveram no Egipto, os Hebreus tiveram tempo de sobra para se familiarizarem com as técnicas da panificação e, chegados à Terra Prometida, puderam pôr em prática o que tinham aprendido. Ao deixarem a vida nómada pela sedentária, desenvolveram a cultura dos cereais, sobretudo do trigo e da cevada e chegaram a confeccionar um pão ainda mais branco que o dos Egípcios, pois descobriram o modo de extremar a flor da farinha de trigo a que chamava Kemch soleth. (12)
Ora, é assim que, falando da história do Homem estamos a falar da história da gastronomia que começa ali mesmo onde e quando se cozeu pão pela primeira vez, se nos é permitido extrapolar um pouco.
Demos agora um salto de alguns milénios para chegarmos ao pão dos nossos dias, primeiro ao "pão nosso de cada dia" (aquele que pomos na mesa e é "o fecho de um longo ciclo em que intervém a generosidade da terra e o trabalho dos homens; cujo fabrico implica agentes do sector primário [GLI os lavradores [GL], do sector secundário [GL] os moleiros [GL] e do terciário [GL] os padeiros; que está impregnado de profunda simbologia: sinal de prosperidade e de fecundidade", elo de ligação entre os homens e os deuses (13); de seguida ao pão sazonal, ao pão das festividades, nomeadamente religiosas, aos bolos (doces, ao contrário das bolas que são salgadas). E porque vamos recordar velhas e tradicionais receitas da nossa região, consideremos, antes de mais, com Samuel Maia (14), médico, algumas diferenças entre o pão de há uns 50 anos e o mais recente, "A farinha do antigo moleiro" (escreve) "recebida pelo velho padeiro que a peneirava e amassava com os braços, levedada, enfornava e cozia conforme preceito da arte, dava um pão sem confronto com o dos maquinismos aperfeiçoados"... "O que se comia há meio século, antes de intervir a alta moagem, indo da azenha para o padeiro continha mais e melhor do que este, glúten, germe e parca dose de casca componentes da cor trigueira, sabor e perfume cativante que ao sair do forno punha a venta no ar em delícia de olfacto".
Mais diz Samuel da Maia que algumas regiões usam o pão de centeio que tem valor nutritivo superior ao do trigo... Mas "maior região que a do centeio é a consumidora do milho. Por intuição admirável a mulher do fabricante, padeira familiar, reconheceu que o milho estreme não obra bem e junta-lhe, para obter melhor produto, uma oitava de centeio ou trigo". (Em Castro Daire, era assim que se procedia. Quando se mandava o milho ao moinho, por cada alqueire mandava-se também uma malga grande de centeio para moer em conjunto). "Será por isto" prossegue S. Maia, "que nas regiões da Beira onde tal costume se introduziu, não se vê a pelagra?"
"O pão de milho avantaja-se ao do trigo ou centeio como alimento de força. Sobre o centeio ganha a vantagem de levedar melhor, por isso se apresentando mais suave ao estômago e fácil de digerir... Com o milho preparam ainda os beirões uma espécie de sêmola, chamada carolas, que vem a ser o milho quebrado e não moído, com o qual se compõe uma papada saborosa, de grande alimento quando acompanhada de carne fresca de porco."
Bolo ou pão podre?
O bolo podre, porém, esse ex-libris gastronómico de Castro Daire, único em todo o País, é feito de trigo, e da mesma forma que o pão. Importa, pois, antes de mais, assentar-se se deve chamar bolo podre ou pão podre como é designado por Maria Emília Cancella de Abreu e Francisco d'Andrade Roque de Pinho no único livro de gastronomia e cozinha que dá conta da sua existência: Tesouros da Cozinha Tradicional Portuguesa, de Selecções do Reader's Digest. (15)
De facto, nem Albino Forjaz de Sampaio [GL] Volúpia - A Nona Arte - A gastronomia; nem João da Mata [GL] Arte de Cozinha; nem Bento da Maia [GL] Tratado Completo de Cozinha (sic) e de Copa; nem OLLEBOMA (António M. de Oliveira Bello) [GL] Culinária Portuguesa; nem O "Livro de Cozinha" da Infanta D. Maria de Portugal; nem, o próprio Domingos Rodrigues, natural da região, na Arte de Cozinha, o primeiro tratado sobre a matéria publicado em Portugal (1680), demonstram conhecer a existência desta especialidade gastronómica.
Todavia, o "Livro de Cozinha" da Infanta (16) dá-nos uma receita de biscoutos que muito se assemelha à receita familiar que temos do bolo podre e por isso aqui a transcrevemos: "Tomem de farinha de trigo branco bem peneirada um alqueire de pó e, para um alqueire, dous arráteis de açúcar bem peneirado, e façam na farinha uma presa e deitem-lhe o açúcar e um púcaro de água quente. E junto desta presa (cova? vide receita do bolo podre) façam outra e deitem-lhe um quartilho de água-de-flor-de-laranja e meio de vinho branco, e uma colher muito pequena de manteiga. E se não quiser que levem manteiga, deitem-lhe a este alqueire uma medida de azeite muito fino. Então misturem a farinha toda e sovem-na muito bem, até que se ajunte aquela massa. E para se lavrar bem a massa há-de ser mais sobre o mole que sobre o duro". Repare-se que não leva ovos, antes vinho branco, nem canela mas água-de-flor-de-laranja.
Quanto a Domingos Rodrigues (17), francamente, esperava que tivesse oferecido à corte de D. Pedro II onde foi cozinheiro e a todos os seus súbditos, através do livro que publicou recheado de toda a sua arte gastronómica, este segredo que parece ter-se mantido confinado a Castro Daire durante séculos. É que Domingos Rodrigues é natural de Vila Cova à Coelheira. Manuel Gonçalves da Costa (17) escrevendo sobre V. C. à Coelheira e de algumas das "muitas pessoas que rubricaram legados à hora da morte com obrigação de missas" refere, no final de uma lista de pessoas da "esfera artesanal": "merece também referência o insigne cozinheiro Domingos Rodrigues, que impôs a sua arte ao serviço dos marqueses de Valença e Gouveia, donde passou a mestre de cozinha da casa real. Morreu em Lisboa, com 82 anos, aos 20 de Dezembro de 1719, deixando impressa uma obra da sua especialidade, intitulada Arte de Cozinha que teve diversas edições". Cita B. Machado, Biblioleca Lusitana, I p. 775.
Actualmente Vila Cova à Coelheira é uma das freguesias do concelho de Vila Nova de Paiva. Mas só desde 7 de Setembro de 1895. Antes desta verificação, ainda cheguei a considerar o autor de Arte de Cozinha um castrense como eu. Valha-nos, contudo, o facto de o primeiro tratado de gastronomia publicado em Portugal ser de um natural da Beira Alta, diocese de Lamego, distrito de Viseu.
Talvez Domingos Rodrigues tenha "ignorado" propositadamente o bolo podre por considerá-lo um bolo podre demasiado pobre, sem dignidade para subir à mesa dos grandes e muito menos à mesa do rei...
Posto isto, vejamos se deve chamar-se bolo ou antes pão podre. Quanto me recordo, toda a minha vida o conheci como bolo podre, tal como a minha mãe (se hoje fosse viva teria 106 anos) que o fazia, tal como o fez a mãe dela e lhe transmitiu a receita e antes o fizera a mãe de sua mãe. Há-de ter pelo menos 200 anos.
Vejamos as definições colhidas na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira:
Bolo s. m. Massa, cozida no forno ou frita, composta principalmente de farinha, açúcar e ovos, de forma em geral arredondada. Cul. Pastelaria com base de farinha ou de fécula, manteiga, ovos e açúcar, associados em proporções variáveis e na qual se inclui, conforme o que se quer obter, frutas, natas, doces de fruta, amêndoas, passas, etc. Conforme o modo de preparar e de cozer, a forma e a proporção dos ingredientes, os bolos tomam paladar, aspecto e nomes diferentes: bolo inglês. bolo podre, bolo económico, etc. Note-se que todos os bolos podres registados em livros, são do tipo acima referido, na quase totalidade dos casos com mel e muitos com frutas cristalizadas ou passas. E cozem-se em forma. O bolo podre de Castro Daire, não, e coze-se tendido como o pão.
Pão s. m. Alimento feito de farinha amassada (especialmente de trigo) em geral fermentada e cozida no forno, a Pão - podre, espécie de pão fofo e doce: "Neste tempo... o viajeiro podia almoçar e mais o azemel na mesma locanda: o armário da cavaca e de pão podre fornecia o grão e a palha para os dois fregueses", Camilo, Duas Horas de Leitura, cap. 7.
Parece-nos, conforme estas definições que o bolo podre de Castro Daire deveria antes chamar-se pão. Mas os ingredientes que leva, mais próprios de bolos, leva a que se chame bolo podre como, aliás, todos dizem na terra.
Receita revelada
segredos por revelar
E aqui vai a receita pela qual tanto vos tenho feito esperar. Naturalmente não se trata de uma receita muito, muito antiga, pois já se emprega o açúcar branco e a canela em pó, nem muito recente pois o açúcar é empregado com parcimónia bem como a canela. Os restantes produtos são os da terra, porventura da propriedade familiar: o trigo, o azeite, a banha, os ovos e até a manteiga.
Nos tempos da minha meninice a manteiga ainda era feita artesanalmente nas aldeias, como Codeçais, por exemplo, a partir do leite de vaca. Por vezes cada família fabricava a sua própria manteiga juntando, dia a dia, as natas "roubadas" ao leite do almoço. Quando se havia juntado uma porção razoável, batiam-se com sal até atingirem a consistência desejada. A que vinha das aldeias para a vila, onde era vendida na feira, chegava em barra ou em forma de pãezinhos de meio quilo ou mais, de cor branca ou amarela (a cor dos olhos do leite quando muito gordo) conforme os pastos ou pensos dos animais, sem sal. Era em casa que se temperava de sal a manteiga comprada na feira, lavando-a muitas vezes e dando-lhe a forma de bolas.
Com manteiga desta qualquer bolo podre saía bem, com um sabor que o emprego de qualquer margarina jamais conseguirá igualar.
Receita: Tomem-se 2 kg de farinha de trigo (normal); 1/2 kg de açúcar branco; 1/2 litro de azeite fino; 25 ovos inteiros; 100 g de manteiga; 75 g de banha de porco; canela em pó a gosto (para estas quantidades 2 de colheres de chá); 250 a 300 g de fermento de padeiro; uma pitada (1 colher de chá) de sal.
Deita-se a farinha na masseira e mistura-se-lhe o açúcar e a canela. Faz-se uma cova ao meio e despeja-se dentro o fermento previamente desfeito num pouco de água morna. Mexe-se tudo muito bem e, enquanto se vai mexendo, vão-se misturando os ovos (que devem estar num recipiente com água morna), um a um. Se forem muito grandes, por vezes nem se gastam todos quantos a receita preceitua. Amassa-se, então, muito bem, como se amassa o pão, mesmo a murro. Quando estiver meio amassada, mistura-se o azeite (a ferver), a manteiga derretida e diluída no azeite, assim como a banha. Continua a amassar-se até a massa empolar e as mãos sairem limpas. Cobre-se, então, com um panal e deixa-se a levedar durante o tempo que for preciso. Quando a massa acabou de crescer, tira-se o panal e estende-se num tabuleiro grande de madeira onde se vão colocando os bolos meios moldados numa tijela grande ou alguidar, aconchegando-os um a um com o panal, para eles crecerem para cima. E assim ficam a levedar mais uma hora. A seguir levam-se à padaria para cozer no forno do pão.
O segredo do bom bolo podre consiste no emprego de produtos genuínos e bons (manteiga em vez de margarina, azeite fino em vez de outros óleos vegetais) e no muito bem amassar.
Há receitas que diferem um nadinha desta, mas só no modo de misturar os ingredientes. Tudo depende da família de origem ou, então, de algum "segredo" que a padeira de modo algum quer revelar, com receio da concorrência. De qualquer modo, a variante principal consiste em que, nestas, os ovos são partidos e deitados para um tacho, juntamente com o fermento tal como se encontrq e não diluído em água (algumas padeiras arrepiam-se todas perante a ideia de que o bolo podre possa levar uma gota de água que seja), o açúcar e o sal. Deixa-se aquecer, mexendo sempre de modo que não cozam nem, muito menos, se peguem ao fundo. Uma vez aquecida esta mistura de ovos, fermento, açúcar e sal, deita-se na farinha e amassa-se durante uma hora. A seguir deita-se o azeite a ferver, com a manteiga e banha derretidas e volta a amassar-se até a massa "engolir a gordura toda e ficar sequinha e as mãos sairem limpas". Polvilha-se, então, com farinha para que não se pegue o panal (antigamente era de linho) com que se tapa. Coloca-se ainda um cobertor leve por cima. Deixa-se ficar umas três a cinco horas a fintar. Quando a massa acabou de subir, tende-se para um tabuleiro coberto com o panal que se aconchega a cada bolo e deixam-se ainda fintar mais um bocado antes de os meter no forno. Estão fintados quando tiverem crescido mais uns dois ou três centímetros. Antes de os meter no forno (a temperatura média e nunca a de cozer o pão, senão queimam-se todos) este é muito bem varrido. Os bolos vão ao forno cobertos com papel de embrulho (pardo ou de outra cor, não importa) e ficam cozidos após uma hora, uma hora e um quarto. Em geral os bolos podres são de quilo, mas por encomenda, podem ser mais pequenos, meio quilo.
Manjar de Páscoa pão de fraternidade
O bolo podre cozia-se, ainda não há muitos anos, só na Páscoa, sobretudo para oferecer à família e aos amigos, mesmo ausentes, servindo como folar. Era (e de alguma forma ainda é) celebrar o rito do dom que reforça os laços familiares e os da sociedade. "Repartir aquilo que se come é um acto fundador da vida em sociedade. Reveste um carácter sagrado, constitutivo dos laços familiares e dos laços sociais". (18) Por outro lado, o bolo em si, sendo como é, essencialmente, um pão, mas mais elaborado, constitui o emblema dos laços, da partilha e do sagrado na nossa civilização e ao mesmo tempo, um facto cultural representado pela ideia de refinar aquilo que se come. (19) De qualquer modo, para mim, preparar os alimentos, cozinhar, mais que uma forma de cultura (expressão cultural, civilizacional) é, sobretudo, um acto de amor: pensar com carinho e até saudade naqueles que vão comer o bolo podre amassado com as nossas mãos. Também comer, sobretudo comer acompanhado, em conjunto, constitui igualmente um acto de amor, uma comunhão, não só com aqueles que confeccionaram a refeição, aqui e agora, mas também com quantos, mais próxima ou remotamente os tornaram possíveis: lavradores, pastores, pescadores... Mas sobretudo um acto de amor por aqueles que fizeram (confeccionaram) este prato, bolo, etc. para nós, para que o saboreemos, nos deliciemos com ele, através de todos os sentidos possíveis e não só do gosto e do olfacto mas também os da vista, tacto e, por vezes, até o do ouvido.
Aliás, se Castro Daire tivesse um duende (e tem) podíamos imaginá-lo a dizer, pegando num bolo podre (fofo, doce, nutritivo): tomai e comei; este é o meu corpo, o meu perfume, o meu sabor; reparti-o entre vós, este é o meu espírito, de fraternidade, de amor e de paz.
Toda a gente fazia a sua fornada ou fornadas. Quem o não fizesse devia ser muito pobrezinho e, então, havia sempre alguém que lhos oferecia. Hoje coze-se durante todo o ano, pelo menos uma vez por semana, para vender.
Algumas das actuais fabricantes mais conhecidas:
- Palmira Cirineu - Telef. (032) 32719 - Os seus bolos vendem-se no Café Stop;
- Maria de Lurdes Garcês (gaba-se de fazer o melhor bolo podre, graças a um segredo que não revela de maneira nenhuma. Leva a cozer ao forno da padaria de Vila Pouca) - Telef. (032) 32101;
- Virgínia Costa Rodrigues Almeida (é padeira, coze diversos pães e vende o bolo podre confeccionado artesanalmente, como os outros, na própria padaria) Telef. (032) 32702.
Bibliografia consultada e/ou citada e outra que pode interessar aos leitores
(1) Jérôme Assise: Le Livre du Pain - Flammarion, Paris, 1996.
(2) Reay Tannahill: Food in History - Penguin Group, Londres, (1ª ed. 1973), ed. revista de 1988.
(3) Christopher Finch: A Connoisseur's guide to the world's best Beer - Abbeville Press Publishers, New York, 1989.
(4) Strabon (Estrabão): Géographie (Livres III-IV) - Société d'édition "Les Belles Lettres" Paris, 1966.
(5) Food in Antiquity - John Wilkins, David Harvey & ,Mike Dobson - University of Exeter Press, 1995.
(6) D. A. Booth: Psychology of Nutrition - Taylor & Francis ltd., London, 1994.
(7, 11, 13) Une Vie de Pain - Faire, penser et dire le pain en Europe: direcção de Claude Macherel et Renaud Zeebrock - Crédit Communal Bruxelas 1994 (Livro álbum de uma exposição acerca do pão, desde a antiguidade aos nossos dias).
(8) Carson J. A. Ritchie: Comida e Civilização, de como a história foi influenciada pelos gostos humanos - trd. José Labaredas - Assírio & Alvim, Lisboa 1995.
(9) Henry Hodges: Technology in the Ancient World - Michael O'Mara Books, London, 1970.
(10) La Bible traduction oecuménique - Les éditions du Cerf, Paris, 1989.
(12) Maria Luísa Migliari / Alida Azzola: La gastronomie de la prehistoire a nos jours - éditions Atlas, Paris, 1983.
Castro Daire - Monografia editada pela C.M.C.D. em 1986; autores: Alberto Correia, Alexandre Alves e João Inês Vazo
(13) Domingos Rodrigues - Arte de Cozinha (editado pela primeira vez em 1680) Reedição (segundo a 3." edição, de 1693, ainda em vida do autor, acrescentada de uma terceira parte) da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1987, na colecção "Biblioteca de Autores Portugueses", com leitura, apresentação, notas e glossário da Maria da Graça Pericão e Maria Isabel Faria.
Domingos Rodrigues - Arte de Cozinha - Reedição (sobre a 3ª) da Colares Editora em 1995, com Prefácio de Alfredo Saramago.
(14) Maia (Dr. Samuel): Boa Comida Gosto da Vida - Livraria Bertrand, Lisboa s/d (há mais de 60 anos).
(15) Tesouros da Cozinha Tradicional Portuguesa - Selecções do Reader's Digest, Lisboa 1984. A Parte Segunda (Receitas Tradicionais), da autoria de Maria Emília Cancella de Abreu e Francisco D'Andrade Roque de Pinho.
(16) O "Livro de Cozinha" da Infanta D. Maria de Portugal - Primeira edição integral do Códice Português I.E. 33 da Biblioteca Nacional de Nápoles, por ordem da Universidade de Coimbra, em 1967. Leitura de Giacinto Manuppella e Salvador Dias Arnaut. Prólogo, notas, glossário e índices da G. Manuppella; introdução histórica de S. Dias Arnaut. O manuscrito é de finais do século XV ou princípios do seguinte.
(17) Manuel Gonçalves da Costa: História do Bispado e Cidade de Lamego IV – Lamego 1984.
(18, 19) Perla Servan-Schreiber: Et nourrir de plaisir - éditions Stock - 1996 - Paris.
Albino Forjaz de Sampaio: Volúpia - A Nona Arte: A Gastronomia - Domingos Barreira, editor - Porto 1940.
João da Mata: Arte de Cozinha, livro publicado em 1876 com prefácio de Alberto Pimentel. Reeditado por Vega (5ª edição) em 1993 com prefácio de Meio Lapa.
Bento da Maia (Carlos); Tratado Completo de Cosinha e de Copa - Livraria Editora Guimarães & Cª, Lisboa. s/d.
OLLEBOMA (António M. de Oliveira Bello): Culinária Portuguesa - Edição do Autor, Lisboa s/d (mas depois de 1935) com prólogo de Albino Forjaz de Sampaio.
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira e outros dicionários.
Maguelone Toussaint Samat: Histoire Naturelle & Morale de la Nourriture - Bordas, Paris (1ª 1987), 1990.
jornalista do "Diário de Notícias"
in "Actas do IV Encontro de Cultura Tradicional da Beira", Viseu, 1997, Edição AVIS
Falemos do pão. Esse alimento quase completo que se come só, que se come com tudo, com o qual tudo se come. Sem necessidade de importar ou adoptar termos estrangeiros para pegarmos em duas fatias dele, entremeá-las de carne (presunto, salpicão, vaca ou galinha), uma sardinha, queijo ou marmelada e improvisarmos uma refeição suculenta e saborosa, se é que não fazemos como na Idade Média e bem avançado o Renascimento, utilizá-lo como suporte das viandas à maneira de prato individual. Ou, então, pegarmos num pedaço de broa, uma malga de azeitonas e um copo de vinho e fazermos a nossa merenda. Ou, ainda, migá-lo e regá-lo com um fio generoso de bom azeite das nossas oliveiras, se não nos quisermos dar ao trabalho de pô-lo de molho, juntar-lhe uma pitada de sal, um dente de alho e fazer uma açorda (com couves e um ovo) das Beiras (para já não falar da alentejana de confecção diferente).
Do grão cru ao pão fermentado passaram milhares de anos
Falemos do pão, alimento primordial da Humanidade, amassado com o suor do rosto como castigo do pecado de Adão e Eva (Gén. 3, 19); base da civilização que é fruto do trabalho do homem (e da mulher) segundo a vontade do Criador: "tirarás da terra o sustento com muito trabalho, todos os dias da tua vida" (Gén. 3, 17).
De facto, a civilização começa (já lá vão bem uns 10 mil anos) quando a humanidade passa do estádio da caça e recolecção de bagas e sementes ao cultivo da terra para dela extrair as plantas e os frutos considerados mais apropriados para a alimentação da tribo.
Assim, depois dos frutos silvestres e da carne assada nas brasas ou mesmo dos cereais espontâneos, o milho miúdo em primeiro lugar, depois a cevada, a aveia, o trigo e o centeio cujos grãos eram comidos crus, cozidos ou assados, surge o pão, primeiro em forma de bolacha, uma massa espessa cozida ao borralho ou sobre o fogo, dura mas assim mesmo mastigável, feita a partir de cereais (nomeadamente cevada ou trigo) farinados grosseiramente entre duas pedras. Depois, por acaso, estas bolachas metamorfosearam-se em pão propriamente dito. O pão, ao contrário da bolacha, resulta de uma massa fermentada, ou seja, deixada algum tempo em contacto com o ar e a água cujos microorganismos a transformam. A fermentação natural desprende gás carbónico que faz crescer a massa a qual, depois de cozida dá um pão bastante mais volumoso, fofo e leve, bem mais saboroso que a bolacha. (1)
Relativamente à ideia de que os cereais durante muito tempo teriam sido consumidos crus, devemos ter presente os estudos dos antropólogos (em grande parte corroborados por descobertas arqueológicas) segundo os quais só muito raramente os homens primitivos terão recorrido aos cereais crus para comerem, pois não podiam deixar de sentir grandes dificuldades para os digerirem em tal estado enquanto, por outro lado, verificaram que os rebentos dos grãos ou, melhor, os grãos em germinação, constituiam um rico e saboroso alimento. É certo que não sabiam porquê (nem isso os terá preocupado, tanto mais que atribuíam aos deuses a dádiva dos alimentos e do modo de os confeccionar quando era caso disso, pois não lhes passava ainda pela cabeça como, graças ao processo de germinação durante o qual o amido contido no grão - indigesto no cereal cru - se converte no digestível açúcar de malte e, muito menos, que parte dos hidratos de carbono se convertem em apreciáveis quantidades de vitaminas B e C e, em menor quantidade, de A, E e K e as proteínas se dividem nos seus constituintes aminoácidos. O problema estava em armazenar os grãos germinados colhidos húmidos que era preciso espalhar e pôr a secar para impedir a formação de bolores. Daí que, segundo Reay Tannahill (2) o grão maltado raramente era considerado como matéria prima alternativa da alimentação num contexto amplo de fabrico de pão ou de cerveja. Pelo menos até os homens poderem dispor de recipientes adequados, o que só veio a acontecer com a invenção da olaria.
Cerveja ou pão: qual deles o primeiro?
A propósito e entre parêntesis, refiramos que recentemente um antropologista emitiu a opinião de que o homem do Neolítico se terá interessado pelo grão, primeiro por constituir a matéria prima para fazer cerveja e só depois como farinha para o fabrico do pão. Esta mesma teoria é referida por Christopher Finch (3) ao escrever que alguns cientistas defendem a tese de que os primeiros homens, ao trocarem a vida nómada pela de agricultores, fizeram-no com a intenção específica de cultivar cereais para produzir cerveja. Outros mais ortodoxos, porém, admitem como mais provável que os proto-agricultores cultivaram o grão para fazerem pão, embora, como é do conhecimento geral, sempre tenha existido uma relação muito estreita entre o fabrico do pão e o da cerveja: ambos são feitos de grão, água e, mais tarde, leveduras e cada um deles oferece aproximadamente o mesmo tipo de valor nutricional. De facto, devemos assumir que, para o homem primitivo, a cerveja foi sobretudo importante como alimento (GL) o seu papel como bebida intoxicante (inebriante) era secundário.
Já agora, mantendo o parêntesis aberto, diremos a este propósito alguma coisa que nos diz respeito, particularmente a nós, beirões, e ainda porque um dos temas desta jornada é a gastronomia tradicional e o tema específico desta palestra é o bolo podre de Castro Daire, passando, naturalmente, pelo pão, uma vez que este bolo é feito da mesma forma que o pão. Ora, como escreve Estrabão (4) acerca dos Lusitanos, estes "são pobres. Não bebem senão água e dormem no chão... As populações das serras vivem dois terços do ano de bolotas de carvalho. Secam-nas, abrem-nas e reduzem-nas a farinha para fazer um pão que se conserva durante longo tempo. Geralmente bebem cerveja, raramente vinho e o que produzem depressa o consomem em banquetes familiares". Daqui poderá inferir-se que os Lusitanos a primeira coisa que fizeram com a cevada (ou outro grão?) foi cerveja. Entretanto o geógrafo descreve como decorriam os festins dos Lusitanos, com muita alegria (decerto em parte provocada pela ingestão do vinho), cantos e dança, o que me leva a imaginar que assim teriam surgido as primeiras confrarias báquicas no território que hoje é Portugal. Mas o testemunho de Estrabão serve, sobretudo, para esclarecer um ponto obscuro na história do pão quando não havia ainda nem pão nem história porque não existia a agricultura, é que, embora a mitologia clássica e os escritos dos poetas ao longo dos tempos tenham atribuído à bolota o papel de um dos principais alimentos com que se sustentaram os povos durante a legendária Idade de Ouro, quando os deuses e os heróis passeavam de braço dado na terra, abundavam os comestíveis e não havia necessidade de trabalhar duramente na agricultura, o certo é que não existem provas evidentes de que assim tenha sido. Segundo os autores de Food in Antiquity (5), quer nos tempos clássicos quer mais tarde até ao século actual, registam-se numerosos documentos sobre o uso da bolota como alimento dos povos agrários ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo e áreas adjacentes da Europa, sudoeste da Ásia e norte de África (até porque a bolota, nutricialmente é semelhante aos cereais, sendo em grande medida fonte de hidratos de carbono e, por outro lado, como as nozes, por exemplo, ricas em gorduras), mas, sobretudo como alimentação dos animais e excepcionalmente (em tempos de grande fome ou em lugares onde a agricultura era difícil) como alimento dos homens.
Entre nós, nomeadamente no Alentejo, onde os porcos são cevados com bolota (e por isso a sua carne é tão gostosa), também os humanos consomem (ou pelo menos consomiam até há pelo menos três décadas), com deleite, bolotas doces assadas. Quando (já lá vão bastantes anos) cheguei pela primeira vez ao Alentejo, reparei, com grande espanto que os Alentejanos se deliciavam com bolotas assadas ou mesmo cruas. Não as comiam para matar a fome nem para saciar o apetite, o seu alimento de base era (e é) o pão, esse pão branco tão gostoso, o mais parecido, pela sua forma, com o bolo podre: comiam-nas como petisco, entre as refeições ou como aperitivo. Embora insistissem comigo para as comer, eu, oriundo da civilização ou cultura da castanha e, ainda por cima, subconscientemente condicionado pela cultura judaico-cristã, recusava-me sequer a provar. Devia pesar-me lá no fundo da memória aquela parábola acerca do filho pródigo (Luc. 15, 15-16) a disputar com os porcos a posse de umas quantas bolotas para matar a fome. Para ser inteiramente sincero, devo dizer que acabei por provar aquela "especialidade" mas fiquei ainda mais saudoso das minhas deliciosas castanhas.
É isto o que D. A. Booth pretende dizer quando escreve que "A nossa experiência social é a origem de muitos dos pormenores do processo mental que ocorre na escolha dos alimentos e bebidas e de quando, onde e como se devem consumir". (6) De facto, na altura de escolher, é natural optar pelo que é tradicional, usual e corrente entre o grupo (aldeia, província, região, etc.) em que fomos criados desde a infância.
Em Trás-os-Montes e na nossa Beira Alta, o que predomina é a castanha. Lembro, a propósito, a tradição que se manteve em Castro Daire até não há muitos anos (hoje de quando em quando reavivada a nível familiar) de se comer caldo de castanhas piladas, quase como uma obrigação religiosa, no Domingo de Ramos. Nesse dia não se comia verdura, nem sequer se ia à horta por ela, por isso o caldo era feito do que havia em casa ou seja de castanhas piladas. Há quem se lembre de que a ementa se repetia na Sexta-Feira Santa. Ora, isto significa que, antigamente, a castanha fazia parte da dieta corrente na região. E não resisto a registar aqui a receita de um dos mais saborosos petiscos de que guardo memória. Na memória apenas, porque hoje, como diz a minha gente, já nem castanhas piladas há! Um exagero. A verdade é que ainda há, quer na vila quer nas aldeias, quem lá de longe a longe faça o seu caldo de castanhas.
A maneira mais simples de o fazer consistia em cozer as castanhas com um bocado de cebola picada, azeite e sal a gosto. Quando a água ficava grossa, estava pronta. Fumegante, cheirosa, de fazer crescer água na boca. Há, porém, quem acrescente às castanhas um pouco de feijão encarnado, para ao mesmo tempo tornar o caldo menos doce e lhe dar cor. E ainda quem lhe acrescente arroz e massa.
Fecho aqui este parêntesis para continuar a acompanhar a história do pão, história que, tal como a do vinho, se confunde com a história da Humanidade. (7)
E não apenas se confunde como, tomando a parte pelo todo, o pão por comida, a influencia decisivamente, para o bem e para o mal. Carson I. A. Ritchie, autor de uma obra sobre este aspecto da alimentação, diz que "foram conceitos erróneos sobre a alimentação e não os correctos que demonstraram ter uma influência maior". (8) Por outro lado, sabe-se que os primeiros instrumentos inventados e utilizados pelo homem foram aqueles que, directa ou indirectamente estavam ligados à obtenção de alimentos (pontas de silex para caçar os animais, por exemplo) ou para os matar de outra forma e separar as carnes. E com o advento da agricultura, as enxadas, foices e toda a parafrenália de alfaias agrícolas que se foram desenvolvendo, bem assim como as mós, os fornos e os potes para cozinhar ou guardar as reservas de cereais, azeite, etc. (9) A civilização nasce e desenvolve-se, pois, à medida da satisfação das necessidades básicas do homem (a alimentação) e, logo a seguir, do seu paladar mais apurado. Mas isso já é propriamente cultura e tem a ver com gastronomia.
Entretanto, das bolachas do Neolítico até aos pães da proposição depositados pelos Hebreus no Templo de Jerusalém, como primícias: "Trareis das vossas casas dois pães feitos de dois décimos de flor de farinha, cozidos com fermento..." - Lev. 23, 17 e, ainda antes do Pentecostes, logo a seguir às ceifas, outros "dois décimos de farinha flor amassada com azeite [GL] um prato consumido pelo Senhor, um perfume agradável [GL] e, como libação, vinho..," Lev 23 (10), o caminho percorrido é longo e os séculos sem conta, De alimento terrestre o pão tornou-se, primeiro no Egipto, na Palestina depois, o símbolo da vida eterna, E, na última Ceia, o corpo do próprio Filho de Deus. Ignora-se qual o povo que terá descoberto o modo de preparar o fermento, mas sabe-se que esta técnica era já usada pelos Egípcios na época pré-dinástica 13500-3300 a.c.). Os restos fossilizados do mais antigo pão levedado conhecido (3560 a 3530 conforme apurado pelos processos de datação) foram, no entanto, descobertos na Europa, concretamente na Suíça numa aldeia lacustre. Na França foram descobertos fragmentos de bolachas da Idade do Ferro, do Bronze e até do Neolítico. (11)
Durante os quatro séculos que viveram no Egipto, os Hebreus tiveram tempo de sobra para se familiarizarem com as técnicas da panificação e, chegados à Terra Prometida, puderam pôr em prática o que tinham aprendido. Ao deixarem a vida nómada pela sedentária, desenvolveram a cultura dos cereais, sobretudo do trigo e da cevada e chegaram a confeccionar um pão ainda mais branco que o dos Egípcios, pois descobriram o modo de extremar a flor da farinha de trigo a que chamava Kemch soleth. (12)
Ora, é assim que, falando da história do Homem estamos a falar da história da gastronomia que começa ali mesmo onde e quando se cozeu pão pela primeira vez, se nos é permitido extrapolar um pouco.
Demos agora um salto de alguns milénios para chegarmos ao pão dos nossos dias, primeiro ao "pão nosso de cada dia" (aquele que pomos na mesa e é "o fecho de um longo ciclo em que intervém a generosidade da terra e o trabalho dos homens; cujo fabrico implica agentes do sector primário [GLI os lavradores [GL], do sector secundário [GL] os moleiros [GL] e do terciário [GL] os padeiros; que está impregnado de profunda simbologia: sinal de prosperidade e de fecundidade", elo de ligação entre os homens e os deuses (13); de seguida ao pão sazonal, ao pão das festividades, nomeadamente religiosas, aos bolos (doces, ao contrário das bolas que são salgadas). E porque vamos recordar velhas e tradicionais receitas da nossa região, consideremos, antes de mais, com Samuel Maia (14), médico, algumas diferenças entre o pão de há uns 50 anos e o mais recente, "A farinha do antigo moleiro" (escreve) "recebida pelo velho padeiro que a peneirava e amassava com os braços, levedada, enfornava e cozia conforme preceito da arte, dava um pão sem confronto com o dos maquinismos aperfeiçoados"... "O que se comia há meio século, antes de intervir a alta moagem, indo da azenha para o padeiro continha mais e melhor do que este, glúten, germe e parca dose de casca componentes da cor trigueira, sabor e perfume cativante que ao sair do forno punha a venta no ar em delícia de olfacto".
Mais diz Samuel da Maia que algumas regiões usam o pão de centeio que tem valor nutritivo superior ao do trigo... Mas "maior região que a do centeio é a consumidora do milho. Por intuição admirável a mulher do fabricante, padeira familiar, reconheceu que o milho estreme não obra bem e junta-lhe, para obter melhor produto, uma oitava de centeio ou trigo". (Em Castro Daire, era assim que se procedia. Quando se mandava o milho ao moinho, por cada alqueire mandava-se também uma malga grande de centeio para moer em conjunto). "Será por isto" prossegue S. Maia, "que nas regiões da Beira onde tal costume se introduziu, não se vê a pelagra?"
"O pão de milho avantaja-se ao do trigo ou centeio como alimento de força. Sobre o centeio ganha a vantagem de levedar melhor, por isso se apresentando mais suave ao estômago e fácil de digerir... Com o milho preparam ainda os beirões uma espécie de sêmola, chamada carolas, que vem a ser o milho quebrado e não moído, com o qual se compõe uma papada saborosa, de grande alimento quando acompanhada de carne fresca de porco."
Bolo ou pão podre?
O bolo podre, porém, esse ex-libris gastronómico de Castro Daire, único em todo o País, é feito de trigo, e da mesma forma que o pão. Importa, pois, antes de mais, assentar-se se deve chamar bolo podre ou pão podre como é designado por Maria Emília Cancella de Abreu e Francisco d'Andrade Roque de Pinho no único livro de gastronomia e cozinha que dá conta da sua existência: Tesouros da Cozinha Tradicional Portuguesa, de Selecções do Reader's Digest. (15)
De facto, nem Albino Forjaz de Sampaio [GL] Volúpia - A Nona Arte - A gastronomia; nem João da Mata [GL] Arte de Cozinha; nem Bento da Maia [GL] Tratado Completo de Cozinha (sic) e de Copa; nem OLLEBOMA (António M. de Oliveira Bello) [GL] Culinária Portuguesa; nem O "Livro de Cozinha" da Infanta D. Maria de Portugal; nem, o próprio Domingos Rodrigues, natural da região, na Arte de Cozinha, o primeiro tratado sobre a matéria publicado em Portugal (1680), demonstram conhecer a existência desta especialidade gastronómica.
Todavia, o "Livro de Cozinha" da Infanta (16) dá-nos uma receita de biscoutos que muito se assemelha à receita familiar que temos do bolo podre e por isso aqui a transcrevemos: "Tomem de farinha de trigo branco bem peneirada um alqueire de pó e, para um alqueire, dous arráteis de açúcar bem peneirado, e façam na farinha uma presa e deitem-lhe o açúcar e um púcaro de água quente. E junto desta presa (cova? vide receita do bolo podre) façam outra e deitem-lhe um quartilho de água-de-flor-de-laranja e meio de vinho branco, e uma colher muito pequena de manteiga. E se não quiser que levem manteiga, deitem-lhe a este alqueire uma medida de azeite muito fino. Então misturem a farinha toda e sovem-na muito bem, até que se ajunte aquela massa. E para se lavrar bem a massa há-de ser mais sobre o mole que sobre o duro". Repare-se que não leva ovos, antes vinho branco, nem canela mas água-de-flor-de-laranja.
Quanto a Domingos Rodrigues (17), francamente, esperava que tivesse oferecido à corte de D. Pedro II onde foi cozinheiro e a todos os seus súbditos, através do livro que publicou recheado de toda a sua arte gastronómica, este segredo que parece ter-se mantido confinado a Castro Daire durante séculos. É que Domingos Rodrigues é natural de Vila Cova à Coelheira. Manuel Gonçalves da Costa (17) escrevendo sobre V. C. à Coelheira e de algumas das "muitas pessoas que rubricaram legados à hora da morte com obrigação de missas" refere, no final de uma lista de pessoas da "esfera artesanal": "merece também referência o insigne cozinheiro Domingos Rodrigues, que impôs a sua arte ao serviço dos marqueses de Valença e Gouveia, donde passou a mestre de cozinha da casa real. Morreu em Lisboa, com 82 anos, aos 20 de Dezembro de 1719, deixando impressa uma obra da sua especialidade, intitulada Arte de Cozinha que teve diversas edições". Cita B. Machado, Biblioleca Lusitana, I p. 775.
Actualmente Vila Cova à Coelheira é uma das freguesias do concelho de Vila Nova de Paiva. Mas só desde 7 de Setembro de 1895. Antes desta verificação, ainda cheguei a considerar o autor de Arte de Cozinha um castrense como eu. Valha-nos, contudo, o facto de o primeiro tratado de gastronomia publicado em Portugal ser de um natural da Beira Alta, diocese de Lamego, distrito de Viseu.
Talvez Domingos Rodrigues tenha "ignorado" propositadamente o bolo podre por considerá-lo um bolo podre demasiado pobre, sem dignidade para subir à mesa dos grandes e muito menos à mesa do rei...
Posto isto, vejamos se deve chamar-se bolo ou antes pão podre. Quanto me recordo, toda a minha vida o conheci como bolo podre, tal como a minha mãe (se hoje fosse viva teria 106 anos) que o fazia, tal como o fez a mãe dela e lhe transmitiu a receita e antes o fizera a mãe de sua mãe. Há-de ter pelo menos 200 anos.
Vejamos as definições colhidas na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira:
Bolo s. m. Massa, cozida no forno ou frita, composta principalmente de farinha, açúcar e ovos, de forma em geral arredondada. Cul. Pastelaria com base de farinha ou de fécula, manteiga, ovos e açúcar, associados em proporções variáveis e na qual se inclui, conforme o que se quer obter, frutas, natas, doces de fruta, amêndoas, passas, etc. Conforme o modo de preparar e de cozer, a forma e a proporção dos ingredientes, os bolos tomam paladar, aspecto e nomes diferentes: bolo inglês. bolo podre, bolo económico, etc. Note-se que todos os bolos podres registados em livros, são do tipo acima referido, na quase totalidade dos casos com mel e muitos com frutas cristalizadas ou passas. E cozem-se em forma. O bolo podre de Castro Daire, não, e coze-se tendido como o pão.
Pão s. m. Alimento feito de farinha amassada (especialmente de trigo) em geral fermentada e cozida no forno, a Pão - podre, espécie de pão fofo e doce: "Neste tempo... o viajeiro podia almoçar e mais o azemel na mesma locanda: o armário da cavaca e de pão podre fornecia o grão e a palha para os dois fregueses", Camilo, Duas Horas de Leitura, cap. 7.
Parece-nos, conforme estas definições que o bolo podre de Castro Daire deveria antes chamar-se pão. Mas os ingredientes que leva, mais próprios de bolos, leva a que se chame bolo podre como, aliás, todos dizem na terra.
Receita revelada
segredos por revelar
E aqui vai a receita pela qual tanto vos tenho feito esperar. Naturalmente não se trata de uma receita muito, muito antiga, pois já se emprega o açúcar branco e a canela em pó, nem muito recente pois o açúcar é empregado com parcimónia bem como a canela. Os restantes produtos são os da terra, porventura da propriedade familiar: o trigo, o azeite, a banha, os ovos e até a manteiga.
Nos tempos da minha meninice a manteiga ainda era feita artesanalmente nas aldeias, como Codeçais, por exemplo, a partir do leite de vaca. Por vezes cada família fabricava a sua própria manteiga juntando, dia a dia, as natas "roubadas" ao leite do almoço. Quando se havia juntado uma porção razoável, batiam-se com sal até atingirem a consistência desejada. A que vinha das aldeias para a vila, onde era vendida na feira, chegava em barra ou em forma de pãezinhos de meio quilo ou mais, de cor branca ou amarela (a cor dos olhos do leite quando muito gordo) conforme os pastos ou pensos dos animais, sem sal. Era em casa que se temperava de sal a manteiga comprada na feira, lavando-a muitas vezes e dando-lhe a forma de bolas.
Com manteiga desta qualquer bolo podre saía bem, com um sabor que o emprego de qualquer margarina jamais conseguirá igualar.
Receita: Tomem-se 2 kg de farinha de trigo (normal); 1/2 kg de açúcar branco; 1/2 litro de azeite fino; 25 ovos inteiros; 100 g de manteiga; 75 g de banha de porco; canela em pó a gosto (para estas quantidades 2 de colheres de chá); 250 a 300 g de fermento de padeiro; uma pitada (1 colher de chá) de sal.
Deita-se a farinha na masseira e mistura-se-lhe o açúcar e a canela. Faz-se uma cova ao meio e despeja-se dentro o fermento previamente desfeito num pouco de água morna. Mexe-se tudo muito bem e, enquanto se vai mexendo, vão-se misturando os ovos (que devem estar num recipiente com água morna), um a um. Se forem muito grandes, por vezes nem se gastam todos quantos a receita preceitua. Amassa-se, então, muito bem, como se amassa o pão, mesmo a murro. Quando estiver meio amassada, mistura-se o azeite (a ferver), a manteiga derretida e diluída no azeite, assim como a banha. Continua a amassar-se até a massa empolar e as mãos sairem limpas. Cobre-se, então, com um panal e deixa-se a levedar durante o tempo que for preciso. Quando a massa acabou de crescer, tira-se o panal e estende-se num tabuleiro grande de madeira onde se vão colocando os bolos meios moldados numa tijela grande ou alguidar, aconchegando-os um a um com o panal, para eles crecerem para cima. E assim ficam a levedar mais uma hora. A seguir levam-se à padaria para cozer no forno do pão.
O segredo do bom bolo podre consiste no emprego de produtos genuínos e bons (manteiga em vez de margarina, azeite fino em vez de outros óleos vegetais) e no muito bem amassar.
Há receitas que diferem um nadinha desta, mas só no modo de misturar os ingredientes. Tudo depende da família de origem ou, então, de algum "segredo" que a padeira de modo algum quer revelar, com receio da concorrência. De qualquer modo, a variante principal consiste em que, nestas, os ovos são partidos e deitados para um tacho, juntamente com o fermento tal como se encontrq e não diluído em água (algumas padeiras arrepiam-se todas perante a ideia de que o bolo podre possa levar uma gota de água que seja), o açúcar e o sal. Deixa-se aquecer, mexendo sempre de modo que não cozam nem, muito menos, se peguem ao fundo. Uma vez aquecida esta mistura de ovos, fermento, açúcar e sal, deita-se na farinha e amassa-se durante uma hora. A seguir deita-se o azeite a ferver, com a manteiga e banha derretidas e volta a amassar-se até a massa "engolir a gordura toda e ficar sequinha e as mãos sairem limpas". Polvilha-se, então, com farinha para que não se pegue o panal (antigamente era de linho) com que se tapa. Coloca-se ainda um cobertor leve por cima. Deixa-se ficar umas três a cinco horas a fintar. Quando a massa acabou de subir, tende-se para um tabuleiro coberto com o panal que se aconchega a cada bolo e deixam-se ainda fintar mais um bocado antes de os meter no forno. Estão fintados quando tiverem crescido mais uns dois ou três centímetros. Antes de os meter no forno (a temperatura média e nunca a de cozer o pão, senão queimam-se todos) este é muito bem varrido. Os bolos vão ao forno cobertos com papel de embrulho (pardo ou de outra cor, não importa) e ficam cozidos após uma hora, uma hora e um quarto. Em geral os bolos podres são de quilo, mas por encomenda, podem ser mais pequenos, meio quilo.
Manjar de Páscoa pão de fraternidade
O bolo podre cozia-se, ainda não há muitos anos, só na Páscoa, sobretudo para oferecer à família e aos amigos, mesmo ausentes, servindo como folar. Era (e de alguma forma ainda é) celebrar o rito do dom que reforça os laços familiares e os da sociedade. "Repartir aquilo que se come é um acto fundador da vida em sociedade. Reveste um carácter sagrado, constitutivo dos laços familiares e dos laços sociais". (18) Por outro lado, o bolo em si, sendo como é, essencialmente, um pão, mas mais elaborado, constitui o emblema dos laços, da partilha e do sagrado na nossa civilização e ao mesmo tempo, um facto cultural representado pela ideia de refinar aquilo que se come. (19) De qualquer modo, para mim, preparar os alimentos, cozinhar, mais que uma forma de cultura (expressão cultural, civilizacional) é, sobretudo, um acto de amor: pensar com carinho e até saudade naqueles que vão comer o bolo podre amassado com as nossas mãos. Também comer, sobretudo comer acompanhado, em conjunto, constitui igualmente um acto de amor, uma comunhão, não só com aqueles que confeccionaram a refeição, aqui e agora, mas também com quantos, mais próxima ou remotamente os tornaram possíveis: lavradores, pastores, pescadores... Mas sobretudo um acto de amor por aqueles que fizeram (confeccionaram) este prato, bolo, etc. para nós, para que o saboreemos, nos deliciemos com ele, através de todos os sentidos possíveis e não só do gosto e do olfacto mas também os da vista, tacto e, por vezes, até o do ouvido.
Aliás, se Castro Daire tivesse um duende (e tem) podíamos imaginá-lo a dizer, pegando num bolo podre (fofo, doce, nutritivo): tomai e comei; este é o meu corpo, o meu perfume, o meu sabor; reparti-o entre vós, este é o meu espírito, de fraternidade, de amor e de paz.
Toda a gente fazia a sua fornada ou fornadas. Quem o não fizesse devia ser muito pobrezinho e, então, havia sempre alguém que lhos oferecia. Hoje coze-se durante todo o ano, pelo menos uma vez por semana, para vender.
Algumas das actuais fabricantes mais conhecidas:
- Palmira Cirineu - Telef. (032) 32719 - Os seus bolos vendem-se no Café Stop;
- Maria de Lurdes Garcês (gaba-se de fazer o melhor bolo podre, graças a um segredo que não revela de maneira nenhuma. Leva a cozer ao forno da padaria de Vila Pouca) - Telef. (032) 32101;
- Virgínia Costa Rodrigues Almeida (é padeira, coze diversos pães e vende o bolo podre confeccionado artesanalmente, como os outros, na própria padaria) Telef. (032) 32702.
Bibliografia consultada e/ou citada e outra que pode interessar aos leitores
(1) Jérôme Assise: Le Livre du Pain - Flammarion, Paris, 1996.
(2) Reay Tannahill: Food in History - Penguin Group, Londres, (1ª ed. 1973), ed. revista de 1988.
(3) Christopher Finch: A Connoisseur's guide to the world's best Beer - Abbeville Press Publishers, New York, 1989.
(4) Strabon (Estrabão): Géographie (Livres III-IV) - Société d'édition "Les Belles Lettres" Paris, 1966.
(5) Food in Antiquity - John Wilkins, David Harvey & ,Mike Dobson - University of Exeter Press, 1995.
(6) D. A. Booth: Psychology of Nutrition - Taylor & Francis ltd., London, 1994.
(7, 11, 13) Une Vie de Pain - Faire, penser et dire le pain en Europe: direcção de Claude Macherel et Renaud Zeebrock - Crédit Communal Bruxelas 1994 (Livro álbum de uma exposição acerca do pão, desde a antiguidade aos nossos dias).
(8) Carson J. A. Ritchie: Comida e Civilização, de como a história foi influenciada pelos gostos humanos - trd. José Labaredas - Assírio & Alvim, Lisboa 1995.
(9) Henry Hodges: Technology in the Ancient World - Michael O'Mara Books, London, 1970.
(10) La Bible traduction oecuménique - Les éditions du Cerf, Paris, 1989.
(12) Maria Luísa Migliari / Alida Azzola: La gastronomie de la prehistoire a nos jours - éditions Atlas, Paris, 1983.
Castro Daire - Monografia editada pela C.M.C.D. em 1986; autores: Alberto Correia, Alexandre Alves e João Inês Vazo
(13) Domingos Rodrigues - Arte de Cozinha (editado pela primeira vez em 1680) Reedição (segundo a 3." edição, de 1693, ainda em vida do autor, acrescentada de uma terceira parte) da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1987, na colecção "Biblioteca de Autores Portugueses", com leitura, apresentação, notas e glossário da Maria da Graça Pericão e Maria Isabel Faria.
Domingos Rodrigues - Arte de Cozinha - Reedição (sobre a 3ª) da Colares Editora em 1995, com Prefácio de Alfredo Saramago.
(14) Maia (Dr. Samuel): Boa Comida Gosto da Vida - Livraria Bertrand, Lisboa s/d (há mais de 60 anos).
(15) Tesouros da Cozinha Tradicional Portuguesa - Selecções do Reader's Digest, Lisboa 1984. A Parte Segunda (Receitas Tradicionais), da autoria de Maria Emília Cancella de Abreu e Francisco D'Andrade Roque de Pinho.
(16) O "Livro de Cozinha" da Infanta D. Maria de Portugal - Primeira edição integral do Códice Português I.E. 33 da Biblioteca Nacional de Nápoles, por ordem da Universidade de Coimbra, em 1967. Leitura de Giacinto Manuppella e Salvador Dias Arnaut. Prólogo, notas, glossário e índices da G. Manuppella; introdução histórica de S. Dias Arnaut. O manuscrito é de finais do século XV ou princípios do seguinte.
(17) Manuel Gonçalves da Costa: História do Bispado e Cidade de Lamego IV – Lamego 1984.
(18, 19) Perla Servan-Schreiber: Et nourrir de plaisir - éditions Stock - 1996 - Paris.
Albino Forjaz de Sampaio: Volúpia - A Nona Arte: A Gastronomia - Domingos Barreira, editor - Porto 1940.
João da Mata: Arte de Cozinha, livro publicado em 1876 com prefácio de Alberto Pimentel. Reeditado por Vega (5ª edição) em 1993 com prefácio de Meio Lapa.
Bento da Maia (Carlos); Tratado Completo de Cosinha e de Copa - Livraria Editora Guimarães & Cª, Lisboa. s/d.
OLLEBOMA (António M. de Oliveira Bello): Culinária Portuguesa - Edição do Autor, Lisboa s/d (mas depois de 1935) com prólogo de Albino Forjaz de Sampaio.
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira e outros dicionários.
Maguelone Toussaint Samat: Histoire Naturelle & Morale de la Nourriture - Bordas, Paris (1ª 1987), 1990.